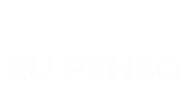Um batom vermelho. Uma estátua de pedra. Uma frase rabiscada no calor da angústia: “Perdeu, mané.” Resultado? Uma cabeleireira, mãe de família, condenada a 14 anos de prisão e 30 milhões de reais de multa — como se tivesse orquestrado um atentado terrorista contra a República. Mas esta sentença não julga apenas um ato de vandalismo. Ela revela uma questão mais profunda: o culto ao poder. Não basta mais obedecer às leis; agora é preciso venerar seus intérpretes. A verdadeira transgressão não foi contra o patrimônio público — foi contra o altar pagão de julgadores.

A condenação veio de forma sumária, sem debates presenciais, sem sustentações orais da defesa. Não foi pronunciada para restaurar a ordem jurídica, mas para oferecer um sacrifício exemplar. Um recado cristalino à sociedade: assim se pune quem ousa desafiar a liturgia do poder. Os oráculos togados, embriagados pela sensação de infalibilidade, não se ofenderam com o batom — sentiram-se desafiados em sua autoridade. E tiranos, por definição, não toleram desafio. Podem ser lenientes com assassinos, indulgentes com corruptos, complacentes com traficantes. Mas jamais perdoam a crítica. A transparência. A luz.
O poder tirânico é sensível. Extremamente sensível. Como todo falso deus, ele exige o incenso do medo, o sacrifício da liberdade individual e a liturgia da submissão coletiva. É como porcelana chinesa — frágil, vaidosa, caríssima e fundamentalmente inútil. Não se sustenta pela lógica, pelo mérito ou pelo respeito autêntico. Mantém-se pela intimidação. E como os deuses do Antigo Egito — vazios por dentro, mas insaciavelmente famintos — demanda sangue.
O que está verdadeiramente em jogo não é uma estátua maculada. É o próprio trono do poder. E quem ousa erguer a cabeça — ainda que armada apenas com um batom, ainda que para escrever uma frase banal — comete o crime supremo na liturgia do poder: a heresia cívica. Rasga o véu do templo. Profana o que se autoproclamou sagrado. E isso, numa república que apodrece por dentro, torna-se mais grave que qualquer crime contra a vida ou o patrimônio.
Foi precisamente isso que Moisés fez diante do Faraó. O confronto não era meramente teológico — era fundamentalmente simbólico. Era a ousadia de questionar um trono que se considerava eterno e incontestável. Herodes também não executou João Batista por divergências doutrinárias, mas por pura vaidade ferida. Porque o tirano não teme tanto a justiça divina — teme, sobretudo, o espelho que o força a ver-se como realmente é. E todo poder que tem pavor de refletir-se já começou, sem perceber, seu próprio processo de autodestruição.
Eis onde nos encontramos em pleno século XXI: cercados de magistrados que não se enxergam como servidores públicos, mas como sumos sacerdotes de uma nova religião estatal — uma religião sem transcendência, sem misericórdia, sem perdão. Já não lhes basta a Constituição como bússola — querem adoração. Não desejam cidadãos conscientes — anseiam por fiéis dóceis, silenciados, que tremem diante dos oráculos jurídicos e jamais ousam esboçar um sorriso irônico.
O que esses novos inquisidores parecem ignorar é que o riso é fundamentalmente sagrado. Que a ironia é a última vingança do espírito livre. Que o sarcasmo — esse demônio particular para todos os regimes totalitários — é um eco do céu zombando das pretensões ridículas dos ídolos de barro que se julgam eternos.
Não é coincidência que os regimes mais sombrios da história sempre começam censurando piadas e criminalizando o humor. Primeiro, silencia-se o comediante. Depois, encarcera-se o crítico. Por fim, diviniza-se o juiz. A história repete-se com a previsibilidade de uma missa negra — mudam apenas os nomes e os rostos dos que aplaudem no coro.
É aí que a perversão do sistema se revela em toda sua extensão: não apenas no excesso de autoridade, mas na substituição gradual da justiça pelo ritual. O tirano não é simplesmente cruel — é meticulosamente litúrgico. Ele necessita de ritos, de símbolos, de doutrinas cuidadosamente distorcidas. Precisa reescrever a história, ressignificar palavras, redefinir crimes e virtudes — até que reste apenas ele como fonte última do bem e do mal. E isso, senhores e senhoras, não é mera política. É teologia invertida.
Todo poder humano que exige reverência em vez de compromisso com a verdade não é governo legítimo — é culto personalista. E todo culto que rejeita a verdade, pune a liberdade de expressão e exige sacrifícios humanos em seu próprio altar é, em sua essência mais profunda, religião satânica.
O que estamos testemunhando é idolatria institucionalizada. É liturgia civil realizada num templo onde só há lugar para os que se renderam. E se algum cidadão incauto ousa adentrar esse espaço com perguntas ou protestos — um batom vermelho, talvez — será imolado no altar do exemplo público. Porque deuses falsos se alimentam da fumaça do desespero de seus inimigos.
O que mais deveria nos alarmar não é apenas o rigor desproporcional da pena — é o ensurdecedor silêncio das consciências. Onde estão os juristas compromissados com a proporcionalidade? Os filósofos defensores da liberdade? Os líderes religiosos guardiões da justiça verdadeira? Estão ocupados demais reverenciando o novo bezerro dourado: esse “sistema” que se arroga o direito de decidir quem pode rir e quem deve sangrar.
Os senhores togados, empoados e enamorados de sua própria retórica, parecem ignorar uma lição ancestral: o verdadeiro Juiz do universo não se impressiona com perversos — ainda que vistam toga. Deus não compartilha Seu altar com a vaidade. E quando a justiça humana se prostitui diante do poder, Ele se cala momentaneamente. Mas esse silêncio divino não é cumplicidade — é prenúncio. Prenúncio do verdadeiro juízo que virá.
Quando a justiça dos homens se converte em culto à autoridade, o tribunal se transforma em templo, e o juiz se imagina divino — o desfecho é inevitável. Não haverá clemência. Não caberá recurso. Porque, como ensina a história, o Verdadeiro Juiz resiste aos soberbos e confunde aqueles que, vestindo a toga da justiça, praticam a injustiça em nome da lei.
Todo poder humano que exige reverência religiosa em vez de respeito racional é, em sua essência, religião satânica — uma inversão perversa da ordem natural das coisas. E todo culto satânico, por mais pompa institucional que ostente, por mais mármore que revista seus templos, por mais latim que adorne seus decretos, termina inevitavelmente como todas as idolatrias da história: reduzido a pó, cercado pelas cinzas de sua própria soberba e pelo eco melancólico de suas blasfêmias contra Deus e a verdadeira justiça.